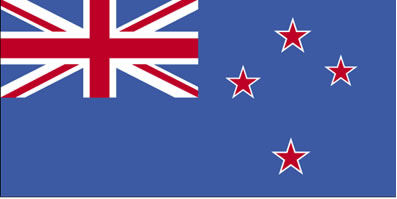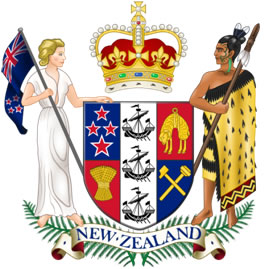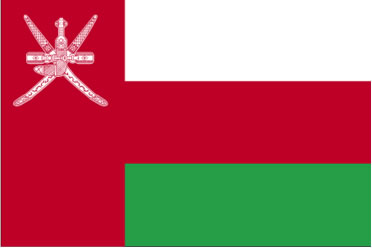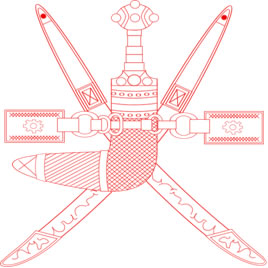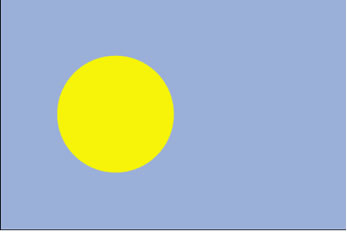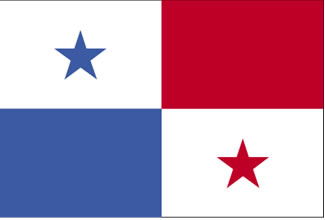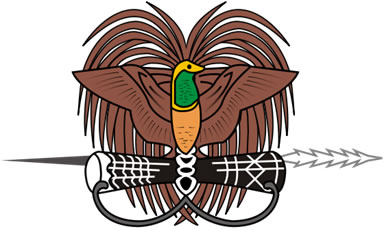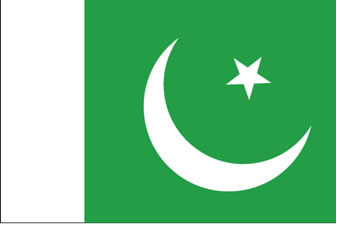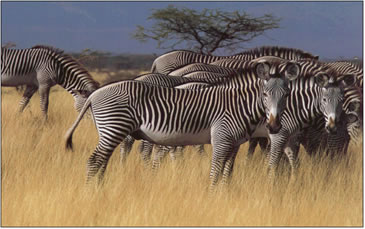Outros êxitos contribuíram para assegurar a independência do reino e
despertar o interesse inglês por uma aliança, expressa em 1386 pelo
Tratado de Windsor. Casou-se então D. João com Filipa, filha do duque de
Lancaster, pretendente ao trono de Castela, por ser casado com uma
filha de D. Pedro I o Cruel. A paz com Castela, porém, só se concluiria
em 1411.
O fato mais significativo, no entanto, do longo reinado de D. João I,
foi em 1415 à tomada de Ceuta, cidade do norte da África que servia de
base aos piratas mouros que ameaçavam as primeiras incursões marítimas
portuguesas. Participou dessa conquista o infante D. Henrique, um dos
filhos do rei D. João I e notável incentivador da expansão marítima,
então em seu albores.
Seguiram-se D. Duarte, que tentou em vão à conquista de Tânger, e D.
Afonso V, durante cujo reinado se deu a ascensão da casa de Bragança,
então proprietária de cerca de um terço do território português. Em
1481, assumiu o trono D. João II, cognominado o "Príncipe Perfeito",
monarca enérgico e cioso de suas prerrogativas reais. Durante seu
reinado, Diogo Cão descobriu a foz do rio Congo, em 1482, e quatro anos
depois Bartolomeu Dias dobrou o cabo da Boa Esperança, no sul da África.
Abria-se assim o caminho marítimo para as Índias, na época o objetivo
máximo das navegações portuguesas.
Em 1494 foi assinado com a Espanha, e sob a arbitragem do papa
espanhol Alexandre VI, o Tratado de Tordesilhas, que fixou a linha de
demarcação das futuras colônias dos dois países.
Com a morte de D. João II, em 1495, sucedeu-lhe seu primo, o duque de
Beja, D. Manuel I o Venturoso. Em cujo reinado, que durou até 1521, D.
Manuel teve a glória de ver concretizado o sonho de alcançar a Índia por
mar -- façanha realizada por Vasco da Gama, que em 1498 atingiu
Calicut. Dois anos depois Pedro Álvares Cabral chegou à costa do Brasil e
daí se dirigiu para a Índia, onde os portugueses estabeleceram um
império comercial cuja maior figura foi Afonso de Albuquerque.
Ao buscar uma aproximação com a Espanha, devido à necessidade de
defender seus interesses ultramarinos comuns, D. Manuel nutria a
esperança de unir toda a península sob o cetro de Avis, para o que se
casou com Isabel, filha dos reis da Espanha. Como condição para o
enlace, foi-lhe exigido "purificar" Portugal dos judeus. Convertidos ao
cristianismo, esses "cristão-novos" ou marranos, todavia, em 1506 foram
massacrados em Lisboa, após o que se refugiaram na Holanda.
O filho de D. Manuel, D. João III -- que, para o Brasil, foi "o
Colonizador" -- instalou em Portugal a Inquisição (o primeiro auto-de-fé
realizou-se em 1540). Sucedeu-lhe seu neto D. Sebastião, levado pelos
jesuítas ao fanatismo religioso e obcecado pela idéia de uma cruzada
contra a África moura. A grande expedição que preparou foi inteiramente
desbaratada em 4 de agosto de 1578, na batalha de Alcácer Quibir, em que
o jovem monarca, de apenas 24 anos, desapareceu. Como nunca se acharam
vestígios de seu corpo, surgiu daí o mito de seu regresso, e da
tendência mística correspondente, o sebastianismo, que chegou até o
século XX.
Ascendeu então ao trono seu tio-avô, o cardeal D. Henrique, que
reinaria apenas dois anos. Com sua morte, em 1580, surgiu o problema
sucessório, pois era celibatário e com ele findava a linha direta de
Avis. Não faltaram pretendentes, entre os quais Filipe II, da Espanha
(neto, por linha materna, de D. Manuel I). Ao morrer D. Henrique, Filipe
ordenou a invasão de Portugal pelo duque de Alba. A resistência dos
partidários de D. Antônio, prior do Crato (filho bastardo de um irmão de
D. João III), foi dominada, e Filipe II tornou-se rei de Portugal, como
Filipe I, reinando de 1580 a 1598.
União Ibérica (1580-1640). Os compromissos assumidos por Filipe II da
Espanha no sentido de respeitar a autonomia portuguesa não foram
respeitados por seus sucessores Filipe III (II de Portugal, que reinou
de 1598 a 1621) e Filipe IV (III de Portugal, rei de 1621 a 1640).
O ressentimento português contra a dominação espanhola -- Filipe III e
Filipe IV nem sequer se dignaram visitar o país -- aumentou com os
prejuízos comerciais acarretados pelas guerras da Espanha e os impostos
cobrados para custeá-las.
Na verdade, contudo, a administração de Portugal foi mantida separada da
Espanha e poucos espanhóis foram nomeados para cargos portugueses. Duas
insurreições -- uma em 1634 e outra em 1637 -- fracassaram, mas em 1640
a situação revelou-se propícia, pois a Espanha se achava em guerra com a
França e às voltas com uma revolta interna, na Catalunha, que o
conde-duque de Olivares pretendeu sufocar com tropas portuguesas.
Assumia a chefia do movimento de libertação, que eclodiu a 1º de
dezembro, o duque de Bragança. Duas semanas depois, expulsas as
guarnições espanholas, foi ele coroado rei de Portugal, com o nome de D.
João IV, que reinou de 1640 a 1656.
Dinastia de Bragança (1640-1910).
A ascensão da dinastia de Bragança foi confirmada pelas Cortes em
janeiro de 1641. Em face da ameaça de invasão espanhola, D. João IV
enviou missões a vários países em busca de auxílio. Em 26 de maio de
1644, em Montijo, os espanhóis foram derrotados e suas tentativas de
invasão fracassaram. O auxílio da Inglaterra, em homens e armas, veio
após o casamento, em 1662, de D. Catarina de Bragança, filha de D. João
IV, com o rei inglês Carlos II. Depois de novas vitórias portuguesas
(Ameixial, em 1663, e Montes Claros, em 1665), foi finalmente concluída a
paz e reconhecida pela Espanha à restauração da independência de
Portugal, firmada com o Tratado de Lisboa, em 1668.
Há esse tempo reinava D. Afonso VI (1656-1683), monarca infeliz, que
sofria das faculdades mentais e viu-se traído pela esposa, Marie de
Savoie-Nemours.
Esta conseguiu a anulação do casamento e logo contraiu núpcias com o
irmão do rei, D. Pedro, declarado regente. D. Afonso foi lançado à
prisão, e o irmão subiu ao trono como D. Pedro II. Em seu reinado, de
1683 a 1706, Portugal começou a recuperar-se dos esforços e tensões das
lutas contra a Espanha, e a sentir os efeitos da descoberta de ouro no
Brasil. Assinou-se, nesse período, com a Grã-Bretanha, o Tratado de
Methuen (1703), pelo qual a troca de vinho do Porto por tecidos de lã
ingleses se tornou a base do comércio anglo-luso, em prejuízo da
incipiente manufatura têxtil portuguesa.
No reinado de D. João V, de 1706 a 1750, Portugal alcançou notável
prosperidade. O quinto, imposto cobrado sobre as pedras e metais
preciosos do Brasil, proporcionava à monarquia uma fonte de riqueza
independente. As Cortes, que desde 1640 já se vinham reunindo
irregularmente, não mais foram convocadas: o governo passou a ser
exercido por ministros nomeados pelo rei, pessoalmente pouco interessado
na administração. Construíram-se academias, bibliotecas, palácios,
igrejas suntuosas. Em 1716 o arcebispo de Lisboa tornou-se patriarca e o
rei recebeu do papa o título de S. M. Fidelíssima. No fim do reinado,
no entanto, em grande parte devido à incompetência dos ministros, o país
entrou em fase de estagnação.
A recuperação dar-se-ia no reinado seguinte, de D. José I, de 1750 a
1777. D. José nomeou como primeiro-ministro Sebastião José de Carvalho e
Melo, depois conde de Oeiras e marquês de Pombal, que logrou uma
ascendência completa sobre o monarca e instaurou no reino um regime de
despotismo esclarecido. Realizou amplas reformas no comércio de açúcar e
diamantes, fundou a indústria da seda, em 1755 enfrentou com eficácia a
crise causada pelo terremoto que devastou Lisboa e criou no Algarve a
Companhia da Pescaria do Atum e da Sardinha e a Companhia do Grão-Pará e
Maranhão, que monopolizou o comércio com o norte do Brasil.
Veio depois o estabelecimento da Junta de Comércio, com poderes para
restringir os privilégios gozados por mercadores ingleses a partir dos
tratados de 1654 e 1661, e a criação da Companhia Geral das Vinhas do
Alto Douro, assim como a reforma, em 1772, da Universidade de Coimbra.
Os métodos de Pombal, no entanto, eram arbitrários e, por vezes, cruéis.
Em 1759 expulsou dos domínios portugueses os padres jesuítas e
perseguiu alguns membros da nobreza. A ditadura pombalina encerrou-se
com a morte do rei e a ascensão ao trono de sua filha, D. Maria I, em
1777. Após a renúncia de Pombal, deu-se o retorno dos jesuítas, e o
Tratado de Santo Ildefonso selou a paz com a Espanha, que em 1762
invadira Portugal.
Decorridos 15 anos de seu reinado, D. Maria I enlouqueceu. Seu filho
-- o futuro D. João VI -- começou então a governar em seu nome e em 1799
tornou-se príncipe-regente. Nesse mesmo ano, em novembro, Napoleão
Bonaparte tomava o poder na França. Dois anos depois, a Espanha,
instigada pelos franceses, invadiu Portugal. Pela Paz de Badajoz,
firmada em junho de 1801, Portugal perdeu a cidade de Olivença.
Nos anos seguintes, o país esteve sob forte pressão para romper suas
relações com o Reino Unido. Em 1806 Napoleão decretou o bloqueio
continental, pelo qual pretendia fechar os portos europeus aos navios
ingleses. Portugal procurou manter-se neutro, mas pelo tratado secreto
franco-espanhol de Fontainebleau, firmado em outubro de 1807 por
Napoleão e Carlos IV da Espanha, projetara-se o desmembramento da nação
portuguesa.
Seguiu-se a invasão francesa de Portugal, comandada pelo general Andoche Junot, ex-embaixador da França em Lisboa.
Na manhã de 27 de novembro de 1807 o príncipe-regente, acompanhado da
família e da corte, embarcava na esquadra portuguesa que, escoltada por
navios ingleses, levou-o para o Brasil. Junot declarou deposta a
dinastia de Bragança, mas já em agosto de 1808 desembarcava na baía do
Mondego, à frente de 13.500 soldados britânicos, Sir Arthur Wellesley
(futuro duque de Wellington), que no mesmo mês alcançou as vitórias de
Roliça e Vimeiro. Pela Convenção de Sintra, assinada depois, permitiu-se
a Junot retirar-se de Portugal com suas tropas.
Em 1808, uma segunda invasão francesa, comandada pelo marechal
Nicolas-Jean de Dieu Soult, resultou na ocupação temporária e saque da
cidade do Porto. Diante da aproximação de Wellesley, mais uma vez os
franceses se retiraram. Em agosto de 1810 deu-se a terceira invasão
francesa. Comandava-a o marechal André Masséna, acompanhado do marechal
Michel Ney e do general Junot. Novas vitórias foram alcançadas por
Wellington, em Bussaco e Torres Vedras. Em março de 1811, Masséna
ordenou a retirada, sob perseguição das forças anglo-lusas, e em abril
os franceses cruzaram a fronteira, deixando definitivamente o território
português. A paz com a França foi assinada em maio de 1814.
Portugal esteve representado no Congresso de Viena, embora sem
desempenhar papel relevante. Já os tratados anglo-portugueses assinados
entre 1809 e 1817 tiveram certa influência sobre o futuro da África. Os
esforços ingleses para obter a colaboração de Portugal na supressão do
tráfico de escravos resultaram no tratado de 22 de janeiro de 1815 e na
convenção adicional de 1817, em que eram reconhecidas as reivindicações
portuguesas sobre parte considerável do continente africano.
Constitucionalismo. As campanhas napoleônicas haviam causado grandes
danos em Portugal. A ausência da família real e a presença de um
comandante estrangeiro (o inglês William Carr Beresford) à frente do
Exército português, associadas à agitação revolucionária e influências
liberais, produziram um ambiente de descontentamento e inquietação.
Em dezembro de 1815 o Brasil foi elevado à categoria de reino unido
ao de Portugal e Algarve e D. João VI -- que subira ao trono em março de
1816, em conseqüência do falecimento de sua mãe -- não demonstrava a
menor intenção de regressar a Portugal. Em 1817, Beresford debelou uma
conspiração em Lisboa e fez executar o líder maçônico general Gomes
Freire de Andrade.
A agitação cresceu. E quando o próprio Beresford viajou ao Brasil a fim
de advogar a volta do rei, em agosto de 1820 eclodiu no Porto uma
revolução constitucionalista, que se propagou e levou à formação, em
Lisboa, da Junta Provisional do Governo Supremo do Reino. Oficiais
britânicos foram expulsos do Exército, e convocou-se a Assembléia
Constituinte, que elaborou uma constituição democrática.
Em julho de 1821, D. João VI, depois de vencer a relutância em voltar
a atravessar o Atlântico, desembarcou em Lisboa. Jurou manter a
constituição, mas sua esposa, D. Carlota Joaquina, e seu segundo filho,
D. Miguel, negaram-se a fazê-lo. O filho mais velho, D. Pedro, ficara,
por decisão paterna, à frente do governo brasileiro. Os
constitucionalistas portugueses, em desacordo com o desejo brasileiro de
não retornar à antiga situação de colônia, procuraram obrigar D. Pedro a
voltar. Ele preferiu permanecer, proclamou a independência do Brasil e,
em setembro de 1822, tornou-se imperador com o título de D. Pedro I.
Tais acontecimentos possibilitaram a D. Miguel, irmão de D. Pedro I,
apelar para as forças absolutistas na tentativa de derrubar os
constitucionalistas.
A insurreição, em 30 de abril de 1824, quase teve êxito: D. João VI
chegou a ser levado pelo corpo diplomático para bordo de uma nau
inglesa. Com o fracasso da revolta, conhecida como a "abrilada", D. João
VI foi restaurado e D. Miguel teve de exilar-se em Viena.
Em 1825 Portugal reconheceu a independência do Brasil. O rei assumiu pro
forma o título de imperador e cedeu-o, mais tarde, a D. Pedro. Quando,
em março de 1826, o rei morreu, criou-se um problema sucessório. O
conselho da regência reconheceu D. Pedro I, imperador do Brasil, como
legítimo rei de Portugal como D. Pedro IV. Este abdicou em favor da
filha D. Maria da Glória, então com sete anos de idade, mas condicionou a
abdicação ao casamento da menina com seu tio D. Miguel e ao juramento
por este da carta constitucional que ele, D. Pedro, outorgara.
Tal solução desagradou aos absolutistas.
Preferiam uma renúncia incondicional por parte de D. Pedro. Em
outubro de 1827, D. Miguel prestou juramento e foi designado regente. Em
fevereiro de 1828 desembarcou em Lisboa e seus partidários começaram a
perseguir os liberais. Houve uma reunião das Cortes em Lisboa (em março a
Câmara dos Deputados fora dissolvida por D. Miguel) e, em julho, foram
declarados nulos os atos de D. Pedro, inclusive a carta constitucional.
D. Miguel foi proclamado rei de Portugal.
A ilha Terceira, nos Açores, tornou-se o centro da causa liberal. Ali,
em junho de 1829, foi criada uma regência em nome de D. Maria da Glória.
Em 1831, D. Pedro abdicou ao trono brasileiro e seguiu para a Europa, a
fim de organizar a campanha contra o irmão.
Em julho de 1832 as forças liberais desembarcaram perto do Porto, que
não tardaram a ocupar. O resto do país, porém, ficou ao lado de D.
Miguel, que durante um ano sitiou os liberais no Porto. No entanto, o
entusiasmo dos miguelistas arrefeceu; o duque da Terceira (Antônio José
de Sousa Manuel) e o capitão inglês Charles Napier, que assumiu o
comando da esquadra liberal, realizaram um bem-sucedido desembarque no
Algarve, em junho de 1833.
O duque da Terceira avançou sobre Lisboa, tomada em julho, e em maio do
ano seguinte D. Miguel capitulou em Évora-Monte, de onde seguiu, mais
uma vez, para o exílio. D. Pedro morreu em setembro de 1834. D. Maria da
Glória tornou-se rainha como D. Maria II. Tinha por principal objetivo
defender a carta constitucional contra os que exigiam uma constituição
democrática como à de 1822. Em setembro de 1836 os democratas assumiram o
poder, passando a ser conhecidos como "setembristas".
Os líderes dos partidários da carta rebelaram-se e foram exilados,
mas, em 1842, com a frente setembristas desunida, a carta foi restaurada
por Antônio Bernardo da Costa Cabral. Certas reformas feitas por Costa
Cabral, na indústria e na saúde pública, causaram uma revolta popular --
a Revolução de Maria da Fonte (assim chamada por ter dela participado,
real ou imaginariamente, uma minhota com esse nome, mas de identificação
duvidosa) -- que se alastrou rapidamente e pôs fim a seu governo.
Portugal ficou dividido entre os setembristas, que ocupavam o Porto, e o
marechal-duque de Saldanha (general João Carlos de Saldanha), que então
gozava da confiança da rainha, em Lisboa. Saldanha negociou a
intervenção dos membros da Quádrupla Aliança (formada em 1834 pelo Reino
Unido, França, Espanha e Portugal), e uma força conjunta
anglo-espanhola obteve a rendição do Porto, em junho de 1847. A guerra
civil terminou nesse mesmo mês, com a assinatura da Convenção de
Gramido.
Saldanha governou até 1849, quando Costa Cabral voltou ao poder, para
ser novamente derrubado em abril de 1851 e ceder lugar uma vez mais a
Saldanha, que permaneceu no governo durante cinco anos, período que
permitiu a pacificação do país.
Sucedeu a D. Maria II, em 1853, seu filho mais velho do segundo
matrimônio (com Fernando de Saxe-Coburgo), D. Pedro V, um príncipe
inteligente e nostálgico. Revelou-se monarca consciencioso e capaz,
merecedor da estima e admiração gerais. Seu reinado, porém, viu-se
entristecido pelas epidemias de cólera e febre amarela que assolaram
Lisboa. Em 1861 o próprio rei foi vitimado pela febre tifóide. Foi calmo
o reinado de seu irmão, D. Luís I, embora nos últimos anos se fizessem
notar avanços dos republicanos.
Com a morte de D. Luís I, em 1889, e a acessão ao trono de D. Carlos
I, eclodiu séria disputa com o Reino Unido. Este, pelo tratado de 1815,
reconhecera as possessões portuguesas na África. Posteriormente, a
Alemanha e a Bélgica entraram na corrida colonial e, na Conferência de
Berlim, em 1885, adotou-se a definição de "ocupação efetiva" como base
para a posse de territórios coloniais. Em Lisboa tomara impulso um
movimento colonialista segundo o qual se reivindicava o território que
se estendia, latitudinalmente, de Angola a Moçambique. Tal reivindicação
em 1886 foi reconhecida pela França e Alemanha.
Apesar de um protesto britânico formulado em 1888 por Robert Arthur
Tolbot Gascoyne-Cecil, terceiro marquês de Salisbury, o ministro do
Exterior português, Henrique de Barros Gomes, enviou o major Alexandre
Alberto da Rocha de Serpa Pinto ao Shiré, na Niassalândia (atual
Malaui), a fim de consumar sua anexação. Serpa Pinto, no entanto,
envolveu-se em luta com tribos que se achavam sob proteção britânica e
em janeiro de 1890 um ultimato inglês exigiu a retirada portuguesa. Em
meio a grande excitação popular, Barros Gomes teve de ceder, o que
acarretou a renúncia do governo.
O incidente causou profundo ressentimento em Portugal, não só contra a
antiga aliada como também contra a monarquia, que em janeiro de 1891 se
viu ameaçada por uma revolução republicana no Porto. Em outubro de
1899, porém, quando o Reino Unido se achava na iminência de um conflito
no Transvaal, uma declaração secreta (Tratado de Windsor),
posteriormente tornada pública, confirmou os antigos tratados de
aliança.
Enquanto isso, a situação financeira permanecia grave e o republicanismo
continuava a fazer progressos. Em 1906 assumiu a chefia do governo o
monarquista João Franco, que tentou reformar as finanças e a
administração, mas foi acusado de fazer ao rei, ilegalmente,
adiantamentos de dinheiro. Esse escândalo foi seguido de boatos de
conspiração que culminaram, em 1º de fevereiro de 1908, com o
assassinato de D. Carlos I e seu herdeiro, D. Luís Filipe, em Lisboa.
O regicídio -- não se sabe se perpetrado por fanáticos ou agentes de
sociedades secretas -- foi aplaudido pelos republicanos, que já se
preparavam para o assalto final à monarquia.
No breve reinado de D. Manuel II, de 1908 a 1910, os políticos
monarquistas, com sua desunião, contribuíram para apressar a queda do
regime. As eleições de agosto de 1910 deram maioria aos republicanos em
Lisboa e no Porto. A 3 de outubro o assassínio de um líder republicano, o
médico Miguel Bombarda, proporcionou o pretexto para um levante já
previamente organizado. No dia seguinte, civis, soldados e marinheiros
iniciaram a revolução, cuja principal figura foi Antônio Machado dos
Santos. Um dia depois estava vitoriosa. D. Manuel II fugiu por mar para
Gibraltar e daí para o Reino Unido. Em 1932, morreu, e seu corpo foi
trasladado para Portugal.
República. O regime recém-instalado formou um governo provisório, sob
a presidência do escritor Joaquim Fernandes Teófilo Braga. Este pôs em
vigor uma nova lei eleitoral, que concedia o direito de voto a todos os
portugueses adultos e procedeu à eleição de uma Assembléia Constituinte,
que em junho de 1911 iniciou seus trabalhos. A constituição foi
aprovada em 20 de agosto e quatro dias depois assumia suas funções o
primeiro presidente eleito, Manuel José de Arriaga Brum da Silveira.
Embora fosse frustrada, em outubro de 1911, uma invasão monarquista
tentada por Henrique Mitchell de Paiva Couceiro, o maior perigo para o
novo regime provinha de suas dissensões internas. No momento, achava-se
relativamente integrado em seus ataques ao monarquismo e perseguição à
igreja. Ainda em outubro as ordens religiosas foram expulsas e suas
propriedades confiscadas; aboliu-se o ensino de religião nas escolas
primárias e a igreja foi separada do estado.
As condições sob as quais católicos e monarquistas eram presos
tiveram repercussão no exterior, mas só gradualmente essa legislação foi
modificada.
Novas universidades foram fundadas em Lisboa e no Porto, mas o trabalho
de destruição revelou-se mais fácil que o de construção e não tardou que
os republicanos se dividissem em evolucionistas (moderados), liderados
por Antônio José de Almeida, unionistas (centristas), chefiados por
Manuel Brito Camacho, e democratas (ala esquerda), sob a liderança de
Afonso Augusto da Costa. Vários republicanos importantes, contudo, não
tinham partido. A agitação da vida política republicana representava
escassa melhoria em relação ao regime monárquico, e em 1915 o Exército
começou a mostrar descontentamento.
O general Joaquim Pereira Pimenta de Castro formou um governo militar
e permitiu aos monarquistas reorganizarem-se, mas uma revolução
democrática, em 14 de maio, levou-o à prisão e confinamento nos Açores. O
presidente Arriaga renunciou e foi substituído por Teófilo Braga e,
quatro meses depois, por Bernardino Luís Machado Guimarães. Este foi
deposto em dezembro de 1917 pela revolução do major Sidônio Bernardino
Cardoso da Silva Pais, que instituiu um regime "presidencialista" de
direita, com ele próprio no poder. Seu governo teve fim abrupto, uma vez
que Pais foi assassinado em 14 de dezembro de 1918.
Após a presidência provisória do almirante João do Canto e Castro
Silva Antunes, os democratas voltaram ao poder, com a eleição de Antônio
José de Almeida.
Ao irromper a primeira guerra mundial, Portugal proclamou, em 7 de
agosto de 1914, sua fidelidade à aliança inglesa. No mês seguinte partiu
uma primeira expedição para reforçar as colônias africanas e ocorreram
choques no norte de Moçambique, na fronteira com Tanganica, hoje
integrada à Tanzânia, e no sul de Angola, na fronteira com o Sudoeste
Africano, hoje Namíbia. Em fevereiro de 1916, Portugal confiscou os
navios alemães surtos nos portos portugueses e em março o ministro da
Alemanha em Lisboa entregou ao governo português a declaração de guerra
de seu país.
Em 1917 uma força expedicionária portuguesa, comandada pelo general
Fernando Tamagnini de Abreu e Silva, foi enviada à frente ocidental.
Pelo Tratado de Versalhes, de 1919, Portugal recebeu 0,75% da
indenização pagável pela Alemanha mais a área de Quionga, na África
oriental, capturada por forças portuguesas. O presidente Antônio José de
Almeida completou seu mandato em outubro de 1923, mas os ministérios
vinham-se sucedendo rapidamente.
Os movimentos revolucionários tornaram-se mais freqüentes à medida que o
Partido Democrático perdia a coesão. No Exército, notavam-se sinais de
impaciência com a agitação política. Embora os democratas alcançassem
nítida maioria nas eleições de 1925 e Manuel Teixeira Gomes passasse a
presidência a Bernardino Luís Machado Guimarães sem incidentes, eclodiu,
em fevereiro de 1926, um levante militar em Lisboa.
A revolta foi sufocada, mas no fim de maio o comandante José Mendes
Cabeçadas Júnior e o general Manuel de Oliveira Gomes da Costa
rebelaram-se em Braga. Bernardino Machado foi deposto e formou-se um
governo provisório.
Período salazarista. Inicialmente, Cabeçadas chefiou o governo
provisório, com Gomes da Costa como ministro da Guerra. Este, contudo,
destituiu Cabeçadas, considerado excessivamente ligado a sua classe
política. Gomes da Costa, por sua vez, foi deposto poucas semanas
depois, e seu ministro do Exterior, general Antônio Oscar de Fragoso
Carmona, assumiu a chefia do governo, em julho de 1926. Em março de
1928, Carmona foi eleito presidente da república, cargo que ocupou até a
morte, em abril de 1951.
Após uma tentativa revolucionária, em fevereiro de 1927, que resultou
em considerável derramamento de sangue, o governo de Carmona não sofreu
mais qualquer oposição séria. O regime militar tinha por programa
simplesmente a restauração da ordem. Para remediar a precária situação
financeira do país, propôs-se obter um empréstimo da Liga das Nações,
mas as condições oferecidas incluíam a supervisão das finanças, o que
foi encarado como atentatório à soberania nacional. Conseqüentemente, o
empréstimo foi rejeitado, e Carmona convidou Antônio de Oliveira Salazar
para ocupar o cargo de ministro das Finanças, em 1928.
Salazar, professor de economia da Universidade de Coimbra, assumiu o
controle total de toda a receita e despesa, ao mesmo tempo em que
empreendia uma revisão completa da administração do país; como ministro
das Finanças, de 1928 a 1940, conseguiu uma série ininterrupta de saldos
orçamentários que restauraram o crédito financeiro nacional; como
primeiro-ministro, a partir de 1932, iniciou o processo pelo qual, no
ano seguinte, passou a fazer cumprir a nova constituição; como ministro
das Colônias, em 1930, preparou o Ato Colonial para a administração do
império colonial português; e, como ministro do Exterior, de 1936 a
1947, guiou Portugal na solução das dificuldades causadas pela guerra
civil espanhola e, na segunda guerra mundial, manteve a neutralidade
compatível com a aliança anglo-portuguesa.
Em maio de 1940 foi assinada uma concordata com o Vaticano, que
esclarecia a posição da Igreja Católica em Portugal. Restituiu-se à
igreja a posse da maioria das propriedades que tinha antes de 1910,
restabeleceu-se o ensino religioso nas escolas oficiais, autorizou-se o
funcionamento de colégios religiosos particulares e os casamentos
religiosos passaram a ser reconhecidos. Quando Carmona morreu, Salazar,
de acordo com a constituição, assumiu as funções presidenciais, que
exerceu até a posse do general Francisco Higino Craveiro Lopes, em
agosto de 1951.
O regime instituído por Salazar, corporativista e autoritário, passou a
ser conhecido pela denominação de Estado Novo. A partir das eleições de
1934, todos os lugares da Assembléia Nacional cabiam a partidários do
governo, embora em três ocasiões houvesse uns poucos candidatos
oposicionistas.
Em 1954 as tentativas da Índia de absorver Goa foram repelidas e em
julho de 1955 o governo indiano rompeu relações com Portugal. A
Organização das Nações Unidas (ONU), a que Portugal só se filiara em
1955, não definiu de modo categórico a situação dos encraves e a 18 de
dezembro de 1961 tropas da Índia invadiram Goa, Damão e Diu. No dia
seguinte os portugueses capitularam. Séria ameaça aos restantes
territórios ultramarinos configurou-se com a rebelião que irrompeu nos
anos seguintes em Angola, Moçambique e Guiné Portuguesa (hoje
Guiné-Bissau), obrigando a metrópole a manter grandes contingentes
armados naquelas áreas.
No fim da década de 1960, havia aproximadamente 120.000 soldados
portugueses aquartelados naquelas três "províncias ultramarinas", na
tentativa de conter a expansão dos movimentos nativistas, de orientação
ideológica diversa. Na Guiné Portuguesa, o problema militar tornou-se
particularmente crítico. Em face de pressões da ONU, Lisboa procurou
promover o desenvolvimento econômico dos territórios africanos, com
obras como a construção da gigantesca represa de Cabora Bassa, em
Moçambique. Nem isso, porém, nem tampouco o apoio da África do Sul à
política colonialista portuguesa, ditado pela importância estratégica de
Angola e Moçambique, puderam conter a insurreição.
Em janeiro de 1961 um grupo de insurretos anti-salazaristas,
chefiados por Henrique Carlos da Mata Galvão, apoderou-se do
transatlântico português Santa Maria, quando navegava no Caribe. Constou
que o ataque fora planejado para coincidir com levantes em Angola e
outras colônias portuguesas, mas nenhuma rebelião se concretizou e os
insurretos obtiveram asilo político no Brasil. Em janeiro de 1962, uma
revolta militar de pequenas proporções, a primeira contra Salazar, foi
esmagada em Beja. Em 1958, Craveiro Lopes foi substituído na presidência
da república pelo almirante Américo de Deus Rodrigues Tomás.